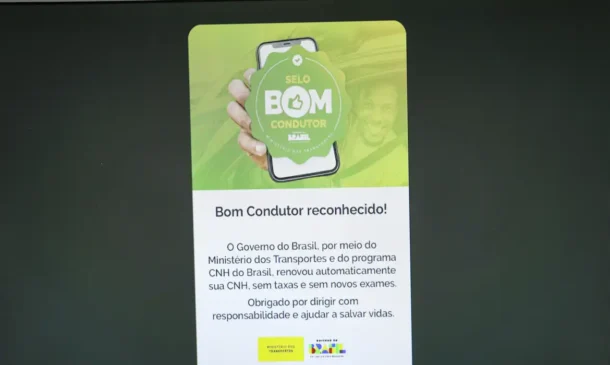Considerado por muitos o maior contista vivo do Brasil, o carioca Sérgio
Sant?anna traz, em seu novo livro, ?O conto zero? (Companhia das Letras), um
painel de seus anos de formação. Após o sucesso de ?O homem-mulher? (2014), o
memorialismo aberto de Sant?anna é fruto de um momento em que sua nostalgia
namora o ?nada? que existe antes e depois da vida. Vida em que, segundo ele, os
sonhos de um mundo melhor acabaram. Como ele diz, não há nada pior do que
acordar de um sonho bom e cair na real.
?O conto zero? batiza o livro. Que zero é esse?
O zero é um ponto de vista inicial sobre as coisas. Um marco. O flanar pela
escrita a partir de meus primeiros anos, no Rio e depois em Londres e de volta
ao Rio, com meus pais e meu irmão. Sou obcecado pela ideia do nada e da morte,
que me angustia e interessa. Esse terminar. Não tenho uma ideia negativa do
nada. Negativo é o sofrimento. A gente tem uma vida entre dois nadas, esse
intervalo em que a gente ?trata a coisa?. Eu até teria vontade de acreditar em
algo, mas sou agnóstico… de certa forma, eu namoro o nada.
De qualquer forma você só vai saber depois…
Vai, mas ninguém voltou para dizer como é. Por isso tenho um namoro com o
nada, esse repouso.
Em ?Vibrações?, uma novela, você relata o ano que passou (entre 1970 e 1971)
numa universidade em Iowa, nos EUA. Retrato de uma época e ponto alto de sua
vida.
Foi a melhor época da minha vida. Aquele tempo esfuziante com um monte de
gente, mil línguas, grandes escritores. Estou contente de ter recuperado essas
notas. Fixei um tempo e pude deixar o testemunho. Não morre mais. Nos EUA, não
me sentia num país opressor. Opressor eram o governo, as forças armadas, uma
armação sacana, mas a oposição ao Vietnã era fortíssima. Apesar da guerra, era
uma época de esperança. Esperança que morreu.
Como assim?
As pessoas estavam otimistas de uma mudança. Elas diziam: quando a guerra
acabar, o mundo não será o mesmo. Eu também acreditava que as pessoas iam mudar
sempre para melhor. E não aconteceu. Parece que agora o sonho acabou mesmo.
Estou muito cético e apreensivo. Donald Trump com chances de ganhar… E essa
divisão do mundo entre imigrantes e não imigrantes… Eu queria ser otimista,
mas não consigo.
E no Brasil?
O que fizeram com o Ministério da Cultura? Dilma ou Temer, tanto faz. E o
futuro… A política é quase abominável. Não vejo corrente, partido, nome em que
me fiar para o futuro.
Nesses anos de esperança, o rádio era vital. Você fala muito em rádio no
livro. Ainda ouve?
Não. Por um simples motivo: estou sem rádio. Ele se foi. Eu gostava de ouvir
a Rádio Mec recentemente. Na minha formação, o rádio era um troço
importantíssimo. Um ritual. Ficava todo mundo parado, ouvindo. Era alta
curtição. Ficava imaginando o que era o mundo, como na literatura.
Num panorama em que se lê tão pouca ficção, o conto perdeu… Mas você
permaneceu fiel.
Tenho um número fiel de leitores. Nenhum livro vende menos que cinco mil. Mas
a fidelidade é porque comecei no conto, na revista ?História?, em BH. Fui
adquirindo o formato. Sempre penso em função de um término. Não tenho vontade de
espichar. É minha vocação. E há as novelinhas, como ?O monstro?, que vai ser
filmada. Outro que virou filme, ?Um crime delicado? foi um pequeno romance.
Você tem um grande amor por Dalton Trevisan. O que tem lido?
Dalton foi e é o maior inventor do conto no mundo. Gostei de ?Luxúria?, de
Fernando Bonassi. Patti Smith é uma grande escritora, e tenho ouvido suas
músicas. Cito W.G. Sebals e Javier Marías. Gosto de comprar livro. Mais do que
receber. Gosto de escolher. De ir à livraria, perto da minha análise.
Que tipo de análise?
Freudiana. Há mais de 30 anos. Sem análise, me sentiria mutilado. Não há
lugar em que o ser humano seja mais livre. E ajuda na escrita. Uma vez eu estava
preocupado com o que escrever, e o analista disse: por que não escrever sem
propósito? Isso me deu uma mexida fundamental. Reforcei um vício de rabiscar
numa folha, sem propósito, e só depois passar para o computador.
No livro você expõe muito suas relações românticas. Como lida hoje com o
amor?
Hoje estou sozinho. Mas tenho muitas recordações e muitas amigas. Eu me dou
bem com pessoas do sexo feminino, mesmo sem namoro fica a amizade. Mas com 74
anos sinto como se minha vida amorosa tivesse terminado. Só que tenho excelentes
recordações de pessoas de quem me separei e nunca deixei de gostar. Vivo muito
dessa memória.
Sem queixas, sem mágoas?
De jeito algum. Mesmo quando terminou mal, depois ficou bem. Só lembro tempos
de amor. Uma afetividade que fica.
Nesta obra você fala de um Rio fantástico, de bondes, anúncios luminosos, o
rádio… E hoje?
Sinto falta do Rio antigo. Era mais aprazível. Hoje é gente demais. Tráfego
terrível. Muita violência. Podem me chamar de nostálgico. Copacabana era um
paraíso. E o Botafogo da minha infância. A quantidade de gente e de carros
atrapalhou não só o Rio, mas o Brasil. Tenho carteira, mas nunca tive carro.
Tirei carteira porque minha segunda mulher tinha um problema no nervo ótico e
era um perigo.
Qual é a sua memória do futebol nesse Rio mítico?
Para mim é visceral, é de família. Essa coisa com o Fluminense me envolve de
todo, eu e meu filho, o André. Eu ia a Laranjeiras ver os jogos. E quando morava
em Copacabana pegava o ônibus e ia a General Severiano. No campo do Botafogo a
gente via, de um alambrado, Garrincha, Nilton Santos e Didi jogarem como se
fosse uma coisa normal.