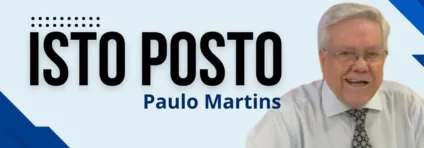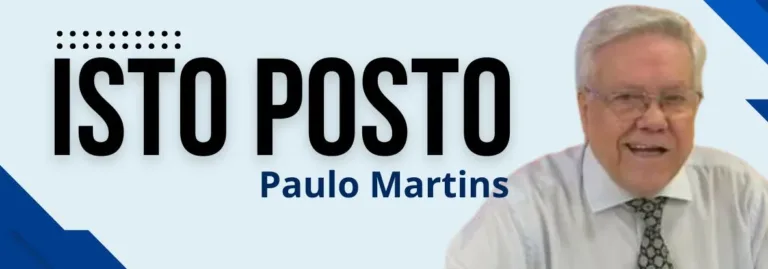O fogo sagrado e as paredes frias
Cascavel e Paraná - Na origem da vida em sociedade, a casa não era apenas abrigo contra intempéries. Fustel de Coulanges, em “A Cidade Antiga”, descreveu o lar como espaço sagrado: no centro ardia o fogo doméstico, chama ritual que reunia os vivos e os mortos, garantindo a continuidade da família. A morada não se reduzia a cálculo patrimonial. Era o lugar onde o humano se inscrevia na eternidade, onde o nome sobrevivia ao corpo.
Séculos depois, em meio a arranha-céus de vidro e condomínios murados, a chama parece ter se apagado. No entanto, ainda é possível sentir sua brasa nos conflitos judiciais que orbitam a família e a propriedade. A cada decisão que opõe o caráter afetivo do lar à lógica mercantil da casa como bem, ecoa essa tensão entre sagrado e mercado.
É no direito de família que esse dilema aparece com nitidez. Quando pais se separam, a permanência da mãe e dos filhos no imóvel comum raramente é tratada como simples questão locatícia. A jurisprudência, em sua maioria, tem reconhecido que não se trata de exigir aluguel, mas de proteger a continuidade da vida dos filhos. A casa, nesse contexto, não é investimento, mas ninho. A rotina escolar, o quarto com brinquedos, a cozinha com cheiros familiares não cabem em cálculos de planilhas imobiliárias.
Contudo, essa proteção não se distribui de forma equitativa. Mulheres em situação de violência doméstica conhecem a face mais cruel da despossessão: o espaço que deveria ser refúgio torna-se campo de guerra. Muitas são obrigadas a abandonar suas casas, não por vontade, mas para sobreviver. O lar se converte em prisão, e a saída, em desterro.
O Estado, nesse cenário, responde com abrigos. Estruturas que cumprem papel fundamental de emergência, mas que carregam o estigma da provisoriedade. Abrigos não são casas: não guardam fotos na parede, não permitem raízes. São espaços de transição, onde a mulher se encontra em suspensão, entre a vida que deixou e a que ainda não pode construir. O fogo sagrado se extingue, e no lugar dele instala-se a espera.
Enquanto isso, estatísticas escancaram a realidade: o déficit habitacional tem rosto de mulher. Mães solo, trabalhadoras precarizadas, vítimas de violência. A sociedade que um dia erigiu o lar como altar, hoje lhes nega o direito elementar a um teto seguro. O lar, que deveria ser espaço de reprodução da vida, torna-se lugar de sua interrupção.
Em “Os miseráveis”, Victor Hugo descreve a miséria não apenas como fome ou nudez, mas como ausência de lar: “A miséria é uma falta de futuro”. Quando a mulher é despossuída de sua casa, não perde apenas paredes: perde futuro. Perde a chama que assegura sua permanência no tempo.
A lei, ainda que tente, raramente consegue lidar com essa dimensão simbólica. Ao falar em posse, propriedade, aluguel, acessão, prefere a linguagem da contabilidade. Mas o que está em jogo é outra coisa: é a diferença entre paredes frias e lar habitado. O direito, quando se recusa a ver isso, mantém-se cego para o que há de humano na moradia.
A casa, afinal, sempre foi política. Não apenas no sentido grego da oikos que se converte em polis, mas na materialidade da vida cotidiana. Quem controla a casa, controla a vida. Não é à toa que, ao longo da história, mulheres tenham sido confinadas ao lar como forma de controle — e que hoje, ironicamente, tantas sejam expulsas dele como forma de punição.
É urgente repensar essa relação entre família e propriedade. Não basta reconhecer a casa como bem econômico ou como espaço de convivência. É preciso assumir sua dimensão existencial. A casa é o lugar onde se elaboram os afetos, onde se transmitem memórias, onde se forja o sentido de pertencimento. Negar a casa às mulheres é negar-lhes o direito de existir no tempo.
Dra. Giovanna Back Franco
Professora universitária, advogada e doutoranda em Direito