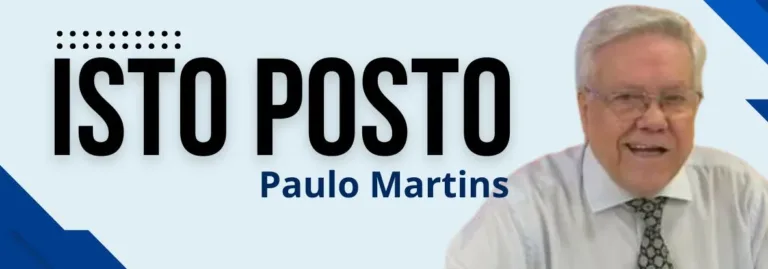Nem toda capa protege
Cascavel e Paraná - Dizia a avó: não saia do caminho, menina. O mundo lá fora é cheio de perigos. Mas o que fazer quando o lobo está sentado no tribunal? A velha fábula de Chapeuzinho Vermelho ensinou a temer o lobo do lado de fora. A floresta era o perigo, e a casa, o refúgio. Porém, há inversão quando as vítimas de violência batem às portas das instituições buscando acolhimento e são acusadas de histeria, alienação, mentira. Essa prática não é exclusiva de um poder, mas expressão de uma disputa contínua e estruturante pelos significados que o direito pode (ou deve) assumir.
No final da década de 1980, houve a tentativa de construção de um arcabouço jurídico que, supostamente, abria espaço para proteções aos sujeitos postos à margem da normativa tradicional, vulnerabilizados porque colocados em posição de submissão e exploração. Contudo, décadas depois, não é incomum a propositura de projetos pelos parlamentares para a redefinição dos conceitos de justiça e imparcialidade em conformidade com a pauta hegemônica. Em defesa da família tradicional e da neutralidade jurídica, favorecem o desmonte da proteção de sujeitos vulnerabilizados.
A baixa representatividade política de mulheres comprometidas com a pauta de minorias, somada à erosão da participação social (cujos instrumentos perdem espaço e representatividade), contribui para que os direitos dos sujeitos vulnerabilizados sejam rotulados como ativismo judicial ou militância ideológica, ainda que isso leve ao ataque da justiça em sua dimensão material.
A infância e a maternidade acabam no centro de projetos políticos conflitantes, mesmo que sejam manejadas retoricamente para a restrição de direitos em contexto de violência, na medida em que postas como abstratas e despolitizadas. Os maiores índices de abuso e violências ocorrem com crianças e adolescentes em contextos familiares e os maiores números de feminicídio se relacionam a mães (mortas diante dos próprios filhos). Assim, projetos de lei como o de sustação do protocolo de julgamento com perspectiva de gênero ou a resistência contra o projeto de revogação da lei de alienação parental estão atrelados ao mesmo projeto político com visão misógina e criminalizante sobre mulheres e crianças.
No primeiro, argumenta-se pela incompetência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para a regulamentação do tema, por não poder editar atos normativos primários. Contudo, o próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu atos editados pelo CNJ nesse ínterim. Além disso, não se vê a mesma contraposição à recente edição (pelo mesmo órgão), por exemplo, sobre o Protocolo para oitiva infanto-juvenil em ações em que se discuta alienação parental (mesmo que haja movimentos populares e projetos para sua revogação). No segundo, a pressão, especialmente, de setores masculinos do Judiciário ainda obriga o convívio das vítimas com os próprios abusadores sob o pretexto de manutenção do vínculo paterno ou revitimiza quem detém a obrigação de denúncia pela violação de direitos dos menores.
Condenações do Brasil pela Corte Interamericana de Direitos Humanos movimentam a pauta política em direção contrária ao conservadorismo parlamentar. No entanto, a onda autoritária e reacionária ainda limita a consideração de marcadores de gênero nos julgamentos ou mesmo a verdadeira proteção da infância em vista da manutenção de direitos do sujeito abstrato e universalizados. A ênfase à racionalidade jurídica e ao Estado de direito moderno permite que o privilégio de alguns continue a se construir sobre a opressão e a exploração de outros.
A suposta neutralidade tem gênero, classe e cor. O que está em jogo não é apenas a letra fria da lei, mas quem será reconhecido como sujeito de direito dentro dela. Quem salvará a Chapeuzinho e a vovozinha quando o lobo veste toga, empunha microfone no Congresso ou assina parecer técnico em nome da neutralidade?
Dra. Giovanna Back Franco
Professora universitária, advogada e doutoranda em Direito