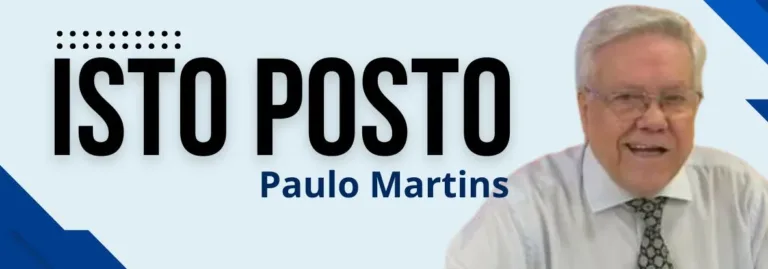Neste mês de maio lembramos os 131 anos da assinatura da Lei Áurea que, oficialmente, acabou com o período da relação escravocrata no Brasil. Um dos últimos no mundo a encerrar essa aberração nas relações humanas, “empurrando” a escravidão até o limite das suas possibilidades, o Brasil parece que ainda não conseguiu virar essa página manchada da sua história seja quando olhamos o passado, seja quando olhamos o presente e as perspectivas que se desenham para o futuro.
Estima-se que cerca de 11 milhões de pessoas foram retiradas da África e levadas para diversos lugares do planeta. O continente americano foi o destino da maior parte delas e o Brasil, o país que recebeu o maior número: cerca de 41% do total, algo em torno de 4,5 milhões.
Aos que sobreviviam às viagens, o destino reservava a usurpação da condição humana, a transformação em “coisa” e a condenação ao trabalho escravo.
De acordo com o historiador Caio Prado Junior, o trabalho escravo, juntamente com a grande propriedade e a monocultura, constituíram-se no tripé que deu base à ocupação e à formação do Brasil como um território que tinha por objetivo apenas fornecer matérias-primas à sua metrópole.
No presente, a exportação de produtos agropecuários ainda é base fundamental do nosso comércio internacional, o País detém um dos maiores índices de concentração fundiária do mundo e o nosso mercado de trabalho é marcado pela informalidade, rotatividade e baixa remuneração.
A transição do trabalho escravo para o trabalho livre no final do século XIX se realizou de forma a substituir o escravo, agora liberto, pelo trabalhador europeu, especialmente italianos em um primeiro momento. A escravidão acabou, mas o “pedágio” imposto à população negra foi sua exclusão da sociedade. Segundo dados do IBGE (2000), em 1887 cerca de 720.000 pessoas ainda eram escravas.
A exclusão a que essa parcela da população brasileira foi submetida é visível em todos os indicadores sociais disponíveis: é a mais afetada pelo desemprego, recebe as menores remunerações, ocupa os trabalhos mais informais, está em menor número nas instituições de ensino, tem maior dificuldade de acesso à saúde, apenas para citar algumas questões relevantes.
Em mais de um século de história, considerada desde 1888, consolidamos uma estrutura que manteve à margem da sociedade um contingente muito grande de pessoas. Criamos uma cultura que “naturalizou” a exclusão a ponto de ela não causar indignação.
Para se ter uma ideia, basta dizer que “em média, a renda do 1% mais rico da população brasileira foi equivalente a 24% da renda total do país no período de 1926 a 2015, o que representa o dobro da concentração observada na maioria dos países do mundo…” (nacoesunidas.org/em-media-1-mais-rico-concentra-24-da-renda-no-brasil-desde-1926/).
Nessa trajetória, chegamos ao presente como um país marcado por graves problemas sociais e, mais do que isso, sem nos livrarmos das práticas que foram determinantes para este quadro de desigualdades. Nosso apego ao passado mostra-se muito intenso. Nesse sentido, basta olhar a insistência de setores da nossa economia em ainda submeter pessoas ao trabalho escravo.
Prova disso é o incessante trabalho desenvolvido pelo Ministério Público do Trabalho que, desde 1995 até hoje, já resgatou 53.607 pessoas nesta condição (observatorioescravo.mpt.mp.br/, acesso em 15/05/2019). Esses resgates foram realizados em diversos estados brasileiros tanto em atividades rurais como em atividades urbanas.
Se tudo que esperamos de uma sociedade é que ela caminhe para o futuro buscando criar condições dignas de existência aos seus cidadãos, é mais do que hora de nos “libertarmos” do nosso passado de opressão.
Edi Aparecido Trindade: Mestre em Economia Social e do Trabalho pela Unicamp. Professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie e da Universidade Paulista