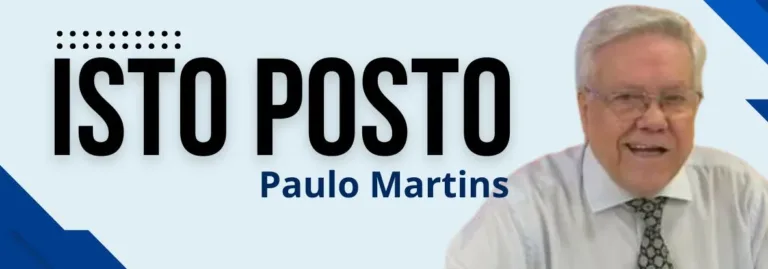Recentemente, os tablóides trouxeram à tona um assunto delicado: a adoção. Na seara jurídica, não é incomum o retorno às origens etimológicas dos termos que nomeiam institutos jurídicos, pois as raízes das palavras têm consigo aspectos semânticos que se prolongam mesmo diante das mudanças sociais. Segundo o dicionário Houaiss, adotar trata-se de aceitar, como parte integrante da família, de forma espontânea, alguém ou algo que antes era externo, alheio ou não cogitado.
Essa concepção, nascida no período greco-romano, fundava-se em um modelo familiar em que o cerne era o pater famílias e até mesmo sua esposa era uma propriedade do chefe familiar. Em um “ato de bondade”, o pater acolheria então algo ou alguém, sob seu fogo sagrado, para que estes prestem subserviência e mantenham o fogo sagrado, na falta de parentes consanguíneos que o fizessem.
Equiparava-se, pois, humanos e animais enquanto “coisa” sob a autoridade do pater famílias, aceitos voluntariamente em virtude do interesse do fogo sagrado. Não se cogitava em analisar os interesses dos adotados, pois se presumia estar amparando-os na medida em que lhe era fornecida uma família.
Especialmente com relação às crianças, é recente o entendimento de que estas são seres em construção da sua personalidade (não adultos em miniatura) que dependem de afeto para sua constituição enquanto ser social. Logo, seus interesses também devem ser cogitados no momento de escolher a tal “família por opção”.
Essa consciência foi abarcada pelo Direito no último século, quando o ser humano passou o ser o centro da construção jurídica, principalmente em seus aspectos psíquico e anímico. É dele que emanam os valores jurídicos, abrindo-se espaço não só ao homem, mas também à mulher e à criança. Assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) regulamentou a adoção no sentido de garantir o chamado “melhor interesse da criança”. Destaca-se aqui que tal instituto é voltado ao menor e ao seu desenvolvimento, não podendo afagar apenas os anseios dos pais.
Tamanha a importância do aspecto volitivo que, para os maiores de 12 anos, é imprescindível seu consentimento. Para os menores, é requisito a expressa anuência dos pais ou responsáveis, exceto se são desconhecidos ou foram destituídos do poder familiar (antigo pátrio poder). Mesmo a mãe que “dá o filho à adoção” precisa consentir nesse sentido e estar plenamente ciente que uma vez que houver a extinção do vínculo jurídico entre pais e filhos, este poderá ser restabelecido com outros pais.
Apesar dos pré-conceitos arraigados sobre o ato de adoção, a Constituição Federal deixa claro que o filho adotivo tem os mesmos direitos que o filho natural, sendo vedada qualquer conduta ou nomenclatura discriminatória. Filho é filho, independentemente de sua origem e de suas condições, não podendo ser possível revogar a filiação. Porém, a adoção só se consuma com a sentença judicial transitada em julgado (quando não cabem mais recursos), sendo que a partir dessa situação jurídica não é possível mais “voltar atrás”. No entanto, até a decisão final, a adoção pode não se concretizar, embora tenha havido criação de laços afetivos no período de convivência.
Ainda que seja do cotidiano o que se chama de adoção à brasileira, quando “pega-se filho alheio para criar como seu”, cujo registro é crime, é imprescindível que a adoção ocorra por meio de processo judicial, em que os pais serão habilitados e inseridos nos Cadastros Nacionais e Estaduais de Adoção e que haja o constante acompanhamento social e jurídico, em vista da proteção do melhor interesse do menor. Contudo, sempre que possível, dá-se preferência aos vínculos consangüíneos frente aos laços afetivos, na contramão dos princípios do direito de família. A burocracia e ranços históricos podem acabar pisando sobre a dignidade de indivíduos em vulnerabilidade, os quais anseiam, comumente, por amor.
Giovanna Back Franco
Advogada e mestre em Ciências Jurídicas
Saiba mais pelo Instagram: @dtofamiliaexplicado