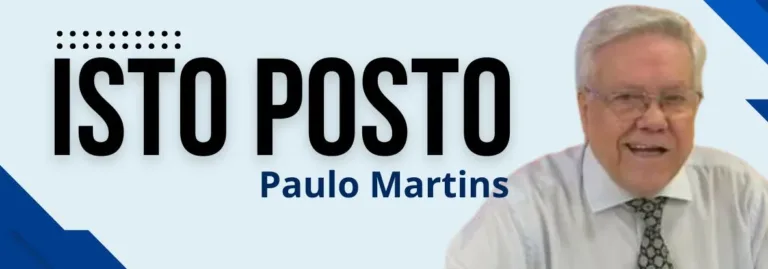Licença para desigualdade
Cascavel e Paraná - Como de praxe, ele pôde descansar no sexto dia, ou melhor, voltar ao trabalho (onde, afinal, ainda o reconhecem como pai por ausência e como homem por produção). Assim, começa e termina a experiência da paternidade no Brasil, visto que o cuidado (enquanto trabalho invisível) ainda é depositado nos ombros femininos e fantasiado de dom – mesmo que não seja instintivo ou natural, mas socialmente definido.
Se a licença-maternidade é uma dívida histórica, a licença-paternidade é uma recusa crônica. Embora tenham ocorrido algumas mudanças legislativas — tímidas, considerando que o próprio STF reconheceu a omissão do Congresso e exigiu a regulamentação do tema ainda em 2025 —, as transformações mais amplas seguem apenas como expectativa. Tramitam projetos que propõem a ampliação da licença-paternidade para prazos que variam entre 20 e 180 dias, mas os estereótipos de gênero permanecem inabaláveis: a mãe continua sendo vista como ninho; o pai, como visita. Muitos sequer sabem que, em empresas vinculadas ao Programa Empresa Cidadã, é possível estender os atuais cinco dias de licença para até vinte.
Existem projetos de lei, inclusive, que buscam comparação com os modelos europeus, em relação às licenças parentais compartilhadas, em que ambos os genitores detém direito individual de afastamento do trabalho, com proteção legal de remuneração integral ou parcial, enquanto incentivo do equilíbrio entre as responsabilidades entre pai e mãe.
Mesmo nos países em que foram instituídas as licenças parentais mais longevas e licenças parentais compartilhadas, a adesão masculina ainda é pequena, seja pela falta de remuneração integral, seja por estigmas sociais sobre os papeis de gênero, seja pela persistência da crença de que o cuidado é naturalmente destino da mãe. Mesmo havendo escolha, o cuidado permanece socialmente delegado às mulheres, especialmente pela lógica do “pai ajudador”.
Os números são simbólicos e representam a negligência do Estado com a responsabilidade parental. Além disso, os projetos não prosperam – o motivo: um impasse estrutural sobre quem é socialmente autorizado e juridicamente respaldado para se ausentar do trabalho produtivo a fim de garantir a manutenção do trabalho reprodutivo – com o adicional de isso fazer parte de sua identidade.
É importante ter em vista que o tempo metricamente aferível não é tudo, assim como a presença não é garantia de envolvimento. Ampliar o número de dias é insuficiente se não for repensada a estrutura que associa o cuidado feminino como destino e o masculino como escolha. Este ainda é visto como exceção no cotidiano masculino e obrigação moral no feminino, apesar da disposição constitucional sobre o compartilhamento da responsabilidade pelo cuidado infantil entre família, Estado e sociedade.
Em consonância com a Constituição e com a Política Nacional de Cuidados, é crucial a formulação de políticas em diálogo com uma nova cultura institucional de responsabilidade coletiva pelos cuidados. Políticas estas que redistribuam o tempo do trabalho reprodutivo de modo a enfrentar desigualdades mais amplas: de gênero, de renda e de oportunidades.
É urgente desnaturalizar o cuidado como destino feminino e reconhecer sua centralidade como valor político, social e jurídico. A ausência de uma cultura do cuidado, somada ao avanço de discursos de ódio — especialmente entre meninos e jovens homens, impulsionados pelo engajamento e pela monetização —, contribui para o agravamento dos índices de violência doméstica contra mulheres e crianças, como apontam os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Mais do que sobrecarga feminina, o que se revela é um risco concreto: a construção de uma masculinidade baseada no controle, na negação da empatia e, não raro, na violência.
Dra. Giovanna Back Franco
Professora universitária, advogada e doutoranda em Direito