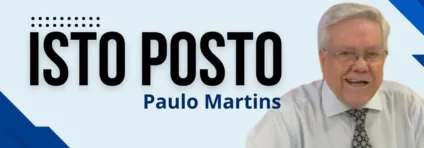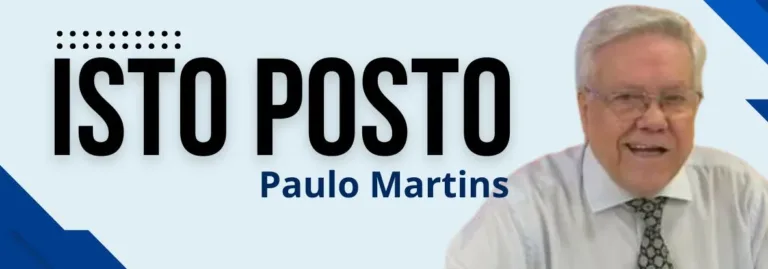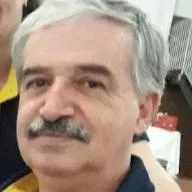O corpo cansado da sociedade
Cascavel e Paraná - Envelhecer é um privilégio, o que significa que não se dá igualmente para todos. Para alguns, os sinais da idade representam autoridade, um reconhecimento social que reforça a dignidade, sem afetar suas oportunidades de trabalho. Para outros, especialmente mulheres, torna-se um calvário diante da pressão estética e da indústria do rejuvenescimento. O mercado de procedimentos não apenas lucra com rugas e cabelos brancos, mas aprofunda desigualdades ao transformar o corpo envelhecido em mercadoria.
O Estatuto do Idoso (que conta com mais de 20 anos de existência) assegura que o envelhecimento deve ser vivido com dignidade, liberdade e participação. Mas a lei é prescritiva, isto é, trata de como deveria ser, mas não consegue alcançar tudo que é. O corpo é biológico, mas também é campo de disputa e de controle, especialmente para elas, visto que o corpo envelhecido é relegado, com assustadora frequência, à marginalidade, como ensinou a filósofa francesa Simone de Beauvoir. Há, portanto, uma construção social de que a juventude está associada ao valor, enquanto a idade, ao descarte.
Assim sendo, a senescência não se entrelaça apenas com os aspectos biológicos, sofrendo impactos também do aspecto social. Segundo estudo da Universidade de Stanford, publicado na Nature, o envelhecimento celular se vincula ao “estilo de vida”. Ser pobre significa envelhecer mais cedo; não ter casa própria é viver sob o desgaste da insegurança habitacional; o desemprego corrói autoestima e saúde; a fome é corrosão da vida cotidiana (como lembra Carolina Maria de Jesus, na obra “Quarto de Despejo”); e morar longe do centro é carregar nos ombros o peso de horas de deslocamento e de serviços públicos precários.
O pior, a desigualdade não para na estética. Ela se converte em risco real dentro das casas. O recente fenômeno conhecido como “care killing” (algo como morte do cuidado) evidencia a violação extrema ao direito de envelhecer. Questão de saúde pública no Japão, o ato reflete um risco associado aos cuidadores (especialmente familiares) esgotados por exaustão, desespero e abandono, além de ser reflexo da crise demográfica e a crise de cuidado – aumentam as demandas e faltam cuidadores em famílias cada vez mais enxutas.
E os dados apontam que as principais vítimas, inclusive no Brasil, são mulheres acima dos 70 anos, afinal de contas a elas costumeiramente se atribui o ato de cuidar, mas pouco se fala do direito de serem cuidadas. Porque o cuidado é feminilizado e, em grande medida, racializado, mas subalternizado pelo ausência ou insuficiência de remuneração.
Se não há quem cuida, o espaço doméstico, que deveria ser proteção, pode se transformar em ameaça. Porém, envelhecer não pode ser apenas sobreviver. Precisa ser, como prevê o direito, uma experiência existencial plena e não apenas a exposição da omissão estrutural do cuidado na sociedade contemporânea. E aqui permanece o incômodo de reler o direito, especialmente o ramo do direito de família, à luz do cuidado e do envelhecimento. Um desafio a ser enfrentado pelo Estado e pela sociedade para que a recente Política Nacional dos Cuidados não se resuma à mera prescrição ou objetivo quase inalcançável do frágil Estado Democrático de Direito.
Se assim não for, envelhecer permanece como privilégio de quem pode exibir os cabelos brancos e sentir-se seguro com a estrutura de cuidado que lhe favorece. O direito de todos torna-se, assim, cada vez mais uma utopia.
Dra. Giovanna Back Franco
Professora universitária, advogada e doutoranda em Direito