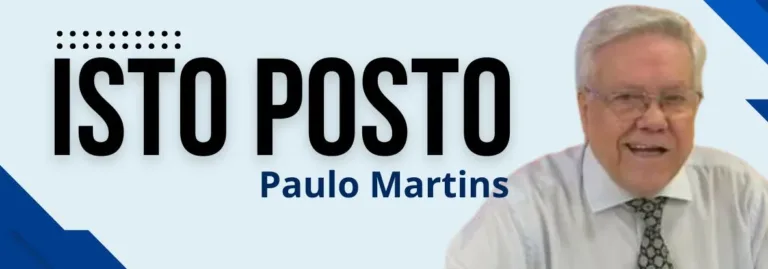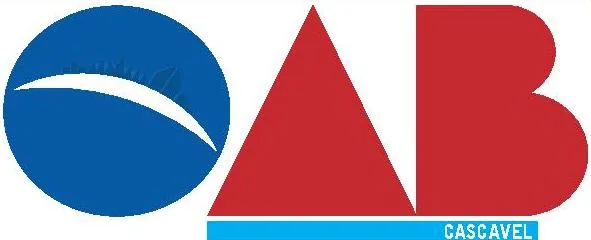A docilidade feminina e o controle corporal
Dra. Giovanna Back Franco
Professora universitária, advogada e mestre em Ciências Jurídicas
Docilidade é característica que se espera das crianças e das mulheres. Criança não dócil é birrenta e precisa ser punida; mulheres não dóceis são masculinizadas e não desejadas na sociedade. O controle dos corpos traz utilidade, segundo Foucault, especialmente na atualidade, mas tem sua origem em tempos longínquos.
No âmbito familiar, o pater tinha poder absoluto sobre a vida dos que lhe pertenciam: a mulher, os filhos, os escravos, os parentes. Poderia decidir sobre sua vida e sua morte, sendo que a jurisdição do Estado lhe era paralela. No período cristão, havia o controle do corpo feminino, por ser fonte do pecado original e que deveria ser imaculado. Foi negado às mulheres, por muito tempo, autonomia decisória e, em consonância, sua própria identidade. Assim como o foi dos infantes por muitos séculos. Todos são apenas extensão das concepções de quem elabora as leis: os homens.
Estes que se propõem, a partir da nova ótica sobre a dignidade, a proteger os vulneráveis, seja pelos deveres em igualdade de condições com as mulheres no âmbito conjugal, seja na corresponsabilidade para com os filhos menores, são os mesmos que, com frequência, violam os corpos dóceis, para satisfação do seu ego, impondo traumas. Todavia, impõem argumentos sobre o corpo alheio, realizando o controle não apenas pelo uso da violência direta, mas também pela criminalização, além da revitimização.
Os índices sobre abusos sexuais de menores são alarmantes e mais ultrajantes são as estatísticas sobre os infratores: aqueles que são próximos, de quem haveria de ter confiança. Pais, padrastos, tios, primos e avós são os principais abusadores e não incomum é decorrer uma gravidez. Não à toa, se popularizou a lenda do boto, corriqueiramente utilizada para acobertar violências psicológicas e sexuais no âmbito familiar.
Nesse ínterim, vêm à tona discussões a respeito da vida, em um embate épico, sobre qual vida deve prevalecer. No entanto, sabe-se que qualquer que for a escolha será previamente julgada como absurda. A mulher ou a menina violentada deve optar por ceder do seu sangue e da sua carne para gestar uma vida fruto de abuso, em uma penitência por ser ela a culpada pelo pecado original, embora lhe seja garantido o direito fundamental sobre o seu corpo, ou optar por interromper a gravidez ou, ainda, dar à adoção e carregar um fardo psicológico para sua vida. Faz-se a revitimização, muitas vezes, inclusive, por meio institucional.
Pouco se fala, porém, sobre o “aborto paterno”, o qual ocorre diariamente por milhares de pais que não se responsabilizam pelos seus próprios filhos e abandonam. Quando não abandonam fisicamente, pouco lhes provém, recolocando a culpa sobre os ombros da mãe. Ela não saberá administrar as finanças, mas tem que administrar a maternidade, com a abdicação de muito pelo seu rebento. Ao homem se dá a escolha sobre seu direito sexual e reprodutivo, mas à mulher, ainda existem limitações, ainda que amplamente reconhecidos enquanto direitos humanos.
Ser pai ou ser mãe jamais deve ser algo imposto, por determinismo biológico, especialmente quando sua origem se deu por alguma violência. A paternidade/maternidade deve ser um vínculo de afeto, de respeito e de dignidade, pois dela decorrem inúmeras responsabilidades. Inclusive a responsabilidade pelos atos realizados pelos filhos até sua maioridade, independentemente de culpa.
A complexidade dessas situações não pode ser respondida de maneira simplista, cabendo às autoridades a decisão com parcimônia e proporcionalidade. O Estado, por seus representantes, deve ter postura neutra, respeitando as disposições constitucionais e não a moral privada de cada “pseudojulgador” para dar a melhor solução. A melhor, não a perfeita, que tenha em mente a responsabilidade do alcance da justiça, não divina, mas humana.