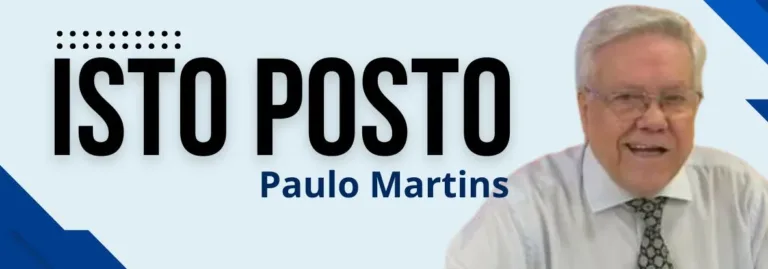Cascavel - Na tela angustiante de A Mãe Morta, Edvard Munch pinta mais do que uma cena doméstica: ele cristaliza o momento em que o tempo desaba sobre uma criança. O corpo da mãe jaz no fundo da imagem, imóvel. À frente, a filha de olhos arregalados e mãos no rosto encarna o desamparo absoluto. Há um tipo de silêncio que só a morte de quem cuida é capaz de provocar. E, talvez, o mundo jurídico ainda precise aprender a escutá-lo.
Quando se fala em sucessão, é comum que tudo se reduza a patrimônio. Herança, bens, inventário, partilha. No entanto, há aspectos que o mercado não alcança, mas que dizem muito mais sobre o que se transmite de uma geração a outra. Entre eles, a possibilidade — raramente exercida — de dispor sobre quem cuidará dos filhos pequenos caso a vida falhe antes da hora. A nomeação de tutor no testamento é um gesto íntimo, ainda que jurídico. É uma forma de garantir que, mesmo na ausência, o cuidado continue, que deve ser feita por instrumento público em cartório ou por testamento. Um documento particular não tem força vinculante, ainda que possa ser considerado na decisão judicial.
Não se trata de adivinhar tragédias, mas de admitir que a finitude existe. E de agir com responsabilidade afetiva sobre isso. Entre as muitas omissões que nos rondam, poucas são tão profundas quanto a de fingir que a morte não atravessa as relações familiares. O testamento, tão associado a cifras, pode e deve ser espaço também para afetos: a guarda dos filhos, os objetos de valor simbólico, o destino de cartas, livros, brinquedos, memórias.
O Direito permite isso. Mas a cultura jurídica resiste. Talvez por pudor, talvez por pragmatismo, evitamos olhar para a morte com a delicadeza que ela exige quando o que está em jogo não é o patrimônio, mas o cuidado. O Direito, se quiser ser mais do que um mecanismo de partilha, precisa abrir espaço para as perguntas que as crianças não sabem fazer — mas que os adultos têm o dever de antever.